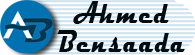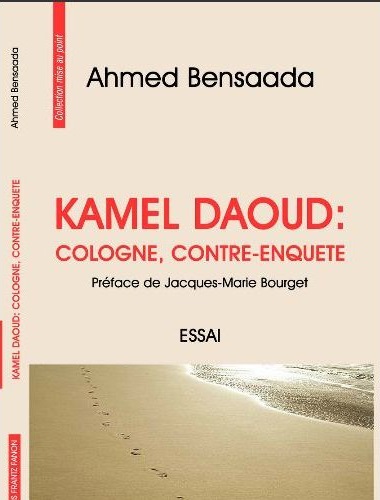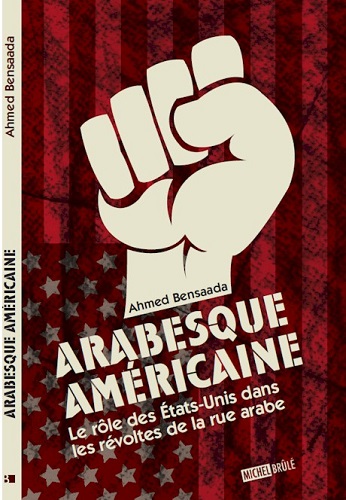| Editoria Entrevistas | 04/06/2016
Tradução: AFRICA 21 Online
Ahmed Bensaada, universitário argelino vivendo no Canadá há vários anos, segue atentamente as mudanças e perturbações no Magrebe e no Médio Oriente, às quais consagrou vários artigos, colóquios e conferências. Sobre as «primaveras» árabes, ele assumiu desde o início um olhar muito crítico, de que fez a síntese num livro, Arabesco americano, agora reeditado com o título Arabesco$ - uma nova edição corrigida e enriquecida, obra de uma atualidade mais do que nunca gritante. Cinco anos depois!
Eis a mais recente entrevista de Bensaada ao portal Afrique Asie.
AFRIQUE ASIE - Cinco anos são passados desde as chamadas «primaveras árabes». O balanço é não muito satisfatório e até catastrófico em muitos dos países envolvidos. Porquê, em sua opinião?
AHMED BENSAADA - «Não muito satisfatório», dizem vocês? Estas perturbações maiores que o pensamento ocidental precipitada e falaciosamente batizou como «primaveras» não geraram senão o caos, a morte, a raiva, o exílio e a desolação em vários países árabes. Seria necessário talvez perguntar aos cidadãos dos países árabes «primaverados» se a situação desastrosa em que eles vivem pode ser qualificada de primaveril.
E os dados são eloquentes quanto a este assunto. Um estudo recente mostrou que esta funesta estação causou, em cinco anos, mais de 1 milhão e 400 mil vítimas (mortos e feridos), às quais é preciso ajuntar mais de 14 milhões de refugiados. Esta «primavera» custou aos países árabes mais de 833 mil milhões de dólares, dos quais 461 mil milhões de perdas em infra-estruturas destruídas e em sítios históricos devastados. Por outro lado, a região MENA (Middle East and North Africa), o Médio Oriente e o Norte de África, perdeu mais de 103 milhões de turistas, uma verdadeira calamidade para a economia.
Aquando do lançamento da primeira versão do meu livro Arabesco americano (Abril de 2011), pus em evidência a ingerência estrangeira nestas revoltas que tocaram a rua árabe, assim como a não espontaneidade desses movimentos. Certamente, os países árabes estavam, antes destes acontecimentos, num estado real de decrepitude: ausência de alternância política, desemprego elevado, democracia embrionária, uma vida má, direitos fundamentais não respeitados, falta de liberdade de expressão, corrupção a todos os níveis, favoritismo, fuga de cérebros, etc.. Tudo isso representa um «terreno fértil» para a desestabilização. Mas embora as reivindicações da rua árabe sejam reais, as pesquisas realizadas mostraram que os jovens manifestantes e ciberativistas árabes eram formados e financiados por organismos americanos especializados na «exportação» da democracia, tais como a USAID, a NED, a Freedom House ou a Open Society do multimilionário George Soros. E tudo isso antes da imolação pelo fogo de Mohamed Bouazizi.
Esses manifestantes, que paralisaram as cidades árabes e que expulsaram os velhos autocratas árabes instalados no poder há decénios, representavam contudo uma juventude cheia de arrebatamento e de promessas.
Uma juventude instruída, manejando com brio as técnicas da resistência não-violenta e os seus slogans incisivos. Essas mesmas técnicas que foram teorizadas pelo filósofo americano Gene Sharp e postas em prática pelos ativistas sérvios do Otpor nas revoluções coloridas [no Leste da Europa]. Essas mesmas técnicas ensinadas aos jovens manifestantes árabes pelos fundadores do Otpor, no seu centro CANVAS (Center for Applied Non Violent Action and Strategies), especialmente concebido para a formação de dissidentes em ascensão.
Uma juventude viciada em novas tecnologias, cujos líderes foram selecionados, formados, organizados em rede e apoiados pelos gigantes americanos da Net por intermédio de organismos americanos como a AYM (Alliance of Youth Movements).
Mas, tal como os ativistas das «revoluções coloridas» , os ciberdissidentes árabes são treinados apenas para decapitar os regimes. Eles são «comanditados» – provavelmente sem o saberem – para levar a cabo a queda do topo da pirâmide do poder. Mas não têm nenhuma interferência na marcha dos acontecimentos que se seguem depois de os autocratas serem expulsos e de o poder ficar vago. Não têm nenhuma aptidão política para concretizar a transição democrática que deveria prosseguir essa mudança maior.
Num artigo sobre as «revoluções coloridas», escrito em 2007 pelo jornalista Hernando Calvo Ospina nas colunas do Le Monde Diplomatique, pode ler-se: «A distância entre governantes e governados facilita a tarefa da NED e da sua rede de organizações, que fabricam milhares de "dissidentes" graças aos dólares e à propaganda. Uma vez alcançada a mudança [de regime ou de governante a derrubar], a maior parte desses ‘dissidentes’, assim como as suas organizações de todo o género, desaparecem da circulação, sem glória».
Assim, quando o papel atribuído aos ciberativistas termina, são as forças políticas locais, avessas a qualquer mudança profunda, que ocupam o vazio criado pelo desaparecimento do antigo poder. No caso da Tunísia e do Egito, são os movimentos islamistas que aproveitaram num primeiro momento a situação, evidentemente ajudados pelos seus aliados, como os Estados Unidos, certos países ocidentais e árabes e a Turquia, que devia servir de modelo.
É claro que esta «primavera» não tem nada a ver com os slogans corajosamente entoados pelos jovens ciberativistas nas ruas árabes e é claro que a democracia é uma armadilha. De facto, como não colocar sérias interrogações sobre esta «primavera» quando se sabe que os únicos países que sofreram esta estação são repúblicas? É um acaso que nenhuma monarquia árabe tenha sido atingida por este tsunami «primaveril», como se tais países fossem santuários da democracia, da liberdade e dos direitos humanos? A única tentativa de sublevação anti-monárquica, a do Bahrein, foi violentamente sufocada pela colaboração militar do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), o silêncio cúmplice dos media dominantes e a conivência de políticos contudo tão loquazes quando acontecimentos análogos tocaram certas repúblicas árabes.
Esta «primavera» visa a desestabilização de alguns países árabes bem identificados num quadro geopolítico muito mais vasto, certamente o «Grande Médio Oriente». Esta doutrina preconiza a reformulação das fronteiras de uma região geográfica reagrupando os países árabes e certos países da vizinhança, pondo assim fim às fronteiras herdadas dos acordos Sykes-Picot. Embora lançado sob a liderança do presidente G. W. Bush e dos seus falcões neoconservadores, este projeto inspira-se numa ideia teorizada em 1982 por Oded Yinon, um alto funcionário do ministério dos Negócios Estrangeiros israelita. O «Plano Yinon», como é chamado, tinha originalmente o objetivo de «desfazer todos os estados árabes existentes e reorganizar o conjunto da região em pequenas entidades frágeis, mais maleáveis e incapazes de enfrentar os israelitas». E a divisão está, infelizmente, em curso…
Neste quadro, a Tunísia, ainda assim, é uma exceção. Como se pode explicar isso?
Decerto, comparativamente com a Líbia, a Síria ou o Iémen, a situação na Tunísia pode parecer interessante. Mas de facto a Tunísia não representa um modelo conseguido como nos querem fazer crer os media dominantes. E não é o Prémio Nobel [da Paz] recentemente outorgado à Tunísia que muda qualquer coisa. Quando se vê a quem foi ele atribuído nestes últimos anos, pergunta-se além disso para que serve este prémio. E os tunisinos, eles que vivem desde há cinco anos a «primaverização» do seu país, sabem qualquer coisa do assunto. Comentando este quinto aniversário, alguns bloggers não estiveram com meias medidas. «Único país democrático do Magrebe+Prémio Nobel, tudo o resto é pior do que o período ZABA (Zine el-Abidine Ben Ali)». Ou então, com uma ponta de humor: «njustiça social, tortura, impunidade, estamos nas tintas, temos o Prémio Nobel».
Numa recente entrevista ao Figaro, um meu amigo tunisino, o filósofo Mezri Haddad, declarou: «Em toda a parte – incluindo na Tunísia, que se apresenta como o bom paradigma revolucionário e à qual se atribui o Prémio Nobel da Paz em vez de perdoar a dívida externa que se tornou vertiginosa em menos de cinco anos e de apoiar a sua economia hoje agonizante – a ‘Primavera árabe’ destruiu mais do que construiu». Antes de acrescentar: «Depois de 2011, a Tunísia tornou-se o primeiro país exportador de mão-de-obra islâmica-terrorista tanto para a Líbia como para a Síria. Os relatórios das Nações Unidas são esmagadores para o tunisino que sou. O autor do último atentado suicida em Zliten, na Líbia, é um tunisino, como o que atacou a mesquita de Valência ou o que acaba de ser abatido diante do comissariado de polícia do 18.º distrito de Paris».
Com efeito, a Tunísia é ainda, de longe, o maior fornecedor ao mundo de jihadistas do Estado Islâmico na Síria. Triste recorde para um país que quer fazer-se passar por uma exceção que justifica a terminologia primaveril. E tudo isso sem contar os assassinatos políticos, os atentados terroristas cegos que enlutaram o país e as sórdidas histórias de «jihad al-nikah» popularizado pelos jovens tunisinos radicalizados.
E também não será a mudança da família do Goncourt para o Museu do Bardo, ainda marcado pelos estigmas do atentado de 18 de Março de 2015, que dará à Tunísia o rótulo de um país que conseguiu a sua transição democrática. Este «empurrão» francês não apagará de maneira nenhuma o lapso da ministra francesa Michèle Alliot-Marie que propôs o saber-fazer francês à polícia de Ben Ali para «resolver as situações securitárias», como pôr fim à impertinência dos manifestantes que tinham invadido a Avenida Bourguiba.
E estes manifestantes que arvoravam a sua juventude como bandeira de um futuro radioso, o que pensam eles, depois de terem afastado o presidente Ben Ali, da idade desses «dinossauros políticos» que o substituíram? Avaliem: Moncef Marzouki (71 anos), Rached Ghannouchi (75 anos) e, sobretudo, o presidente atual, Béji Caid Essebsi (90 anos).
Podem eles acreditar realmente que uma revolta intrinsecamente jovem, qualificada de «facebookiana», possa ser representada por gerontocratas, velhos caciques de regimes odiados, de islamistas belicosos ou dos que confundem o interesse do país com o interesse supranacional, da sua confraria?
Pensavam eles que um dia uma lei eleitoral seria aprovada para reabilitar os antigos apoiantes de Ben Ali, contra quem combateram com determinação?
Teriam eles imaginado que cinco anos, quase dia após dia, depois da partida de Ben Ali, um jovem diplomado tunisino, Ridha Yahyaoui, se mataria em Kasserine para protestar contra o favoritismo na contratação para o emprego, flagelo que eles tinham denunciado e contra o qual se tinham batido? E que os distúrbios que se seguiram a este drama tenham sido duramente reprimidos?
O que houve de tão positivo nesta «Primavera» tunisina se, cinco anos mais tarde, Yahyaoui imita Bouazizi pelas mesmas razões?
Que diferença ou nuance de análise se deve ter, em sua opinião, na análise das realidades atuais em países como a Síria ou a Líbia, país este que nos diz respeito [à Tunísia] tendo em conta a vizinhança e a proximidade?
A guerra civil que devasta atualmente a Síria tem curiosas similitudes com a que prevaleceu na Líbia: a) o epicentro inicial da revolta síria não se encontrava na capital mas numa região fronteiriça (contrariamente ao que aconteceu na Tunísia e no Egito); b) uma «nova antiga» bandeira apareceu com estandarte dos insurretos; c) a fase não-violenta da revolta foi muito curta; d) a implicação militar estrangeira (direta ou indireta) rapidamente transformou os tumultos não-violentos numa sangrenta guerra civil. Com efeito, quando a teoria de Gene Sharp não funciona e os ensinamentos da CANVAS não dão frutos como nos casos da Líbia e da Síria, as manifestações transformam-se muito rapidamente em guerra civil. Esta metamorfose opera-se graças a uma ostensiva ingerência estrangeira dos países referidos anteriormente, via OTAN (no caso da Líbia) ou de coligações heteróclitas (no caso da Síria).
Assim, os países ocidentais (com a ajuda dos seus aliados árabes e regionais) podem passar, sem estados de alma, duma abordagem não-violenta à Gene Sharp para uma guerra sangrenta e mortífera onde correm rios de sangue árabe.
A efémera fase sharpiana de manifestações populares foi mesmo utilizada para justificar a intervenção militar da OTAN na Líbia ou da coligação anti-Bachar na Síria. A resolução 1973 [da ONU] que permitiu a destruição da Líbia foi justificada pela falsa acusação segundo a qual as forças leais a Kadhafi teriam feito pelo menos 6.000 mortos entre as populações civis. Na verdade, numerosos países entenderam que os Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha e seus aliados deturparam e abusaram desta resolução permitindo à OTAN ultrapassar o mandato do Conselho de Segurança. Casos, em particular, da Rússia e da China que, tendo em conta «a lição da Resolução 1973», opõem-se hoje com os seus vetos a toda a resolução das Nações Unidas condenando a Síria ou o seu presidente, Bachar al-Assad. Se não fosse isso, as televisões dominantes [mainstream] do mundo inteiro ter-nos-iam mostrado imagens do presidente Bachar com o coração devorado ou a cabeça arrancada por jihadistas especialistas do assunto que pululam na Síria graças à colaboração ativa dos ocidentais e seus aliados.
Ademais, o estudo dos e-mails da Senhora Hillary Clinton mostrou que as motivações da eliminação de Kadhafi não tinham nada a ver com uma qualquer vontade de democratização da Líbia mas sim com interesses estratégicos, económicos, políticos e de um famoso tesouro em ouro. E é a mesma coisa em relação ao presidente sírio.
É também interessante notar que investigações muito sérias realizadas por especialistas americanos mostraram que a guerra na Líbia não era necessária e que ela poderia ter ser evitada se os Estados Unidos quisessem. E mostraram que a administração americana facilitou o fornecimento de armas e apoio militar a rebeldes ligados à Al-Qaida.
Por outro lado, o contra-almirante americano Charles R. Kubic, na reforma, revelou que Kadhafi estava disposto a deixar a Líbia para permitir o estabelecimento de um governo de transição, a troco de duas condições. A primeira era assegurar, após a sua saída, que uma força militar permanecesse para expulsar a Al-Qaida; e a segunda era a concessão de um livre-trânsito e o levantamento das sanções contra ele, a sua família e os seus próximos.
Por seu turno, o antigo presidente da Finlândia (1994-2000) e Prémio Nobel da Paz (2008), Martti Ahtisaari, reconheceu ter sido mandatado pela administração russa para encontrar uma solução pacífica para o conflito sírio e isso desde o começo do ano de 2012.
O plano da resolução do conflito sírio proposto aos representantes dos cinco países membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas [EUA, Rússia, China, Grã-Bretanha e França] compreendia três pontos: 1)não armar a oposição; 2) organizar um diálogo entre a oposição e Bachar al-Assad; 3) permitir a Bachar al-Assad retirar-se com dignidade.
Segundo Marti Ahtisaari, nenhum seguimento foi dado ao plano após a apresentação desta proposta aos representantes americano, britânico e francês.
Parece, pois, claro que o objetivo desta «Primavera» não tem nada a ver com a democracia e os direitos humanos na Líbia e na Síria (e, além disso, na região MENA), mas a eliminação física dos presidentes Kadhafi e Bachar al-Assad permite destruir estes dois países e liquidar milhares de árabes, permite financiar jihadistas comedores de corações e cortadores de cabeças e esconde-os quando eles voltam as suas armas contra os seus criadores.
Bem ao contrário, o que se chama «primavera» nos casos líbio e sírio são exemplos pedagógicos de guerras civis fomentadas do estrangeiro sob a capa de motivos direito-humanistas.
Atualmente, estes dois países são terras de instabilidade geopolítica e de covis de jihadistas daechianos abertamente financiados por países ocidentais, países árabes e potências regionais .
No quadro desta forte turbulência política e de ingerência estrangeira agressiva, a Argélia foi e continua a ser um alvo escolhido. Lembremos que jovens argelinos também participaram em formações de sérvios da CANVAS e que numerosos países apostaram na «primaverização» (violenta ou não) da Argélia. As más recordações do decénio negro e a efemeridade da CNCD (Coordenação Nacional para a Mudança e a Democracia) forçaram uma decisão diferente.
Hoje, a situação líbia é evidentemente muito preocupante para a segurança e estabilidade da Argélia. Alguns observadores calculam que haja 300 grupos de milícias armadas na Líbia e notam que elas estão fortemente ligadas às suas homólogas tunisinas. De facto, segundo um relatório da Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia Nacional Francesa, datado de Novembro de 2015, «o conjunto de atentados recentes na Tunísia foram organizados e planificados a partir da Líbia».
Assim, e contrariamente às declarações belicosas e mal-intencionadas de Nicolas Sarkozy – um dos responsáveis maiores da destruição da Líbia –, deveria ser a Argélia a lamentar-se da sua localização geográfica fronteiriça com a Tunísia e a Líbia. Isso é tanto mais verdade quanto é certo que a colaboração entre o Daech na Líbia e os movimentos terroristas do Sahel é cada vez mais evidente, o que dá ainda mais razões à Argélia para tornar seguro o seu Sul.
Vê-se bem, pois, que mesmo que a Argélia não tenha sido tocada diretamente por esta lúgubre estação, a «primaverização» dos seus vizinhos coloca-lhe enormes desafios.
No seu livro Arabesque$, de que acaba de aparecer uma nova edição revista e enriquecida, a tese que defende é a de uma grande implicação e de uma grande responsabilidade dos Estados Unidos nas «primaveras árabes», um envolvimento norte-americano que classifica, nada mais, nada menos, como operações de desestabilização de estados e de regimes instalados no mundo árabe. Até que ponto, para além da tese, e em que pontos factuais precisos continua a defender esta análise?
Quando a primeira versão do meu livro intitulado Arabesco americano foi publicada em Abril de 2011, ela foi acolhida com muito ceticismo porque a tese que ali era desenvolvida opunha-se à euforia «primaveril» dominante e introduzia uma nota discordante no unanimismo inebriante. Esta benevolência face a uma «revolução» árabe imaculada, orquestrada por uma bela juventude instruída e impetuosa, não devia em nenhuma circunstância ser manchada por acusações que, de toda a maneira, não podiam ser senão caluniosas. Este discurso foi repetido pelos media dominantes e por numerosos especialistas «catódicos», dos quais subsistem alguns espécimes recalcitrantes.
É preciso reconhecer que opor-se ao romantismo revolucionário levado ao seu auge, algumas semanas apenas depois da queda de Ben Ali e de Moubarak, relevava certamente de uma inconsciência temerária.
Contudo, a tese apresentada neste livro – que inclui mais de 260 referências [de fontes] facilmente verificáveis – foi meticulosamente elaborada graças à análise de numerosos livros, documentos oficiais, relatórios de atividades, telegramas Wikileaks, etc..
É claro que não foram os Estados Unidos que provocaram a «Primavera» árabe. Como foi explicado antes, a situação política e sócio-económica dos países árabes é um terreno fértil para a dissidência e a revolta. Contudo, a implicação americana no processo não é inócua, longe disso. Confirmam-no o papel primordial dos organismos especializados na «exportação» da democracia e maioritariamente subvencionados pelo governo americano, as formações teóricas e práticas sobre a resistência não-violenta dispensadas pela CANVAS, a constituição de uma «liga árabe da Net» dominando as novas tecnologias, a elaboração de ferramentas de navegação anónima distribuídas gratuitamente aos ciberativistas, a estreita colaboração entre os ciberdissidentes e as embaixadas [norte-]americanas nos países árabes, a dimensão das somas investidas, o envolvimento militar e as manobras diplomáticas a alto nível. E como a política externa dos Estados Unidos nunca foi um modelo de filantropia, é preciso reconhecer a evidência de que os americanos influenciaram fortemente o curso dos acontecimentos. Sem esquecer que todas estas ações foram empreendidas durante anos, antes do começo da «Primavera» árabe.
À medida que o tempo avançava, a natureza pérfida destas «revoluções» foi revelada, as línguas soltaram-se e novos documentos apareceram. Não só nada veio desmentir a minha tese mas também ela foi amplamente confirmada. Foi isso que justificou a redação de uma nova versão do livro, intitulada Arabesco$ – Inquérito sobre o papel dos Estados Unidos nas revoltas árabes, editada em Setembro de 2015. Em comparação com a obra anterior, o novo livro inclui mais de 600 referências [de fontes] e o seu número de páginas quase triplicou. Entre os documentos explícitos, citemos, por exemplo, o estudo realizado em 2008 pela corporação RAND (gabinete de estudos do Exército dos Estados Unidos), que serviu de fundamento para uma política americana de «exportação» da democracia para os países árabes baseada na formação, apoio e organização em rede de ativistas provenientes desses países.
Um outro documento merece também ser mencionado. Trata-se de um relatório saído do Departamento de Estado americano, redigido em 2010 e obtido em 2014 graças à lei para a liberdade de informação.
Esse relatório explica claramente «a estrutura elaborada de programas do Departamento de Estado visando criar organizações da ‘sociedade civil’, em particular as organizações não-governamentais (ONG), com o fim de modificar a política interna dos países selecionados em favor da política estrangeira dos Estados Unidos e dos seus objetivos de segurança nacional». Sempre utilizando uma linguagem diplomática, o documento precisa que o objetivo é «a promoção e a pilotagem de mudanças políticas nos países alvos».
A implicação dos Estados Unidos na «Primavera» árabe não é pois uma simples construção intelectual. A sua existência é abertamente reconhecida pela própria administração americana. É o que explicado com muitos pormenores no livro Arabesco$.
Partilha a ideia de que as «primaveras árabes» acabaram? Que cenários possíveis vê para a Síria e, sobretudo, para a Líbia, país em que os atores não conseguem entender-se sobre uma solução política e para o qual há previsões na Europa de uma intervenção militar?
Que se diga: a «Primavera» árabe nunca foi uma Primavera, tendo em vista as consequências desastrosas para as populações, nem intrinsecamente árabe, porque os movimentos de contestação foram muito largamente infiltrados por organismos estrangeiros, nomeadamente estadunidenses.
O processo de «primaverização» do mundo árabe chega ao fim? Certamente. Os povos árabes não são cegos. Os exemplos da selvagem destruição da Líbia, da Síria e do Iémen são suficientes para convencer mesmo os mais recalcitrantes.
O mundo árabe tem imperativamente necessidade de fazer enormes transformações em diferentes domínios da sociedade; político, sócio-económico, cultural, de liberdade de expressão, dos direitos humanos, etc.. Mas precisa de realizar estas mudanças destruindo os países e permitindo o ressurgimento de práticas medievais semeando a morte, o ódio e a desolação? Certamente que não.
Por outro lado, estas mudanças não devem de modo algum obedecer nem beneficiar agendas estrangeiras e os países árabes não devem proceder de modo a que as suas terras se tornem no terreno de jogo de potências e sobre o qual se travem guerras «low cost» onde só o sangue é derramado.
É o caso da Síria, na medida em que este país é atualmente o cenário de confrontos (diretos e indiretos) de numerosos beligerantes, cada um tendo as suas próprias ambições, distantes das dos próprios sírios.
No que diz respeito à Líbia, qualquer nova intervenção militar ocidental neste país corre o risco de provocar consequências indesejáveis no território argelino. É por esta razão que a Argélia opõe-se firmemente a tal eventualidade e não exclui nenhum esforço para encontrar uma solução política para esse conflito e fazer sentar-se à volta da mesma mesa as diferentes fações em conflito.
Apenas permitindo aos cidadãos de um país discutir em conjunto, de boa-fé, tendo em conta os seus interesses nacionais e não os de outros, o mundo árabe conseguirá sair da situação de decadência para onde foi empurrado.